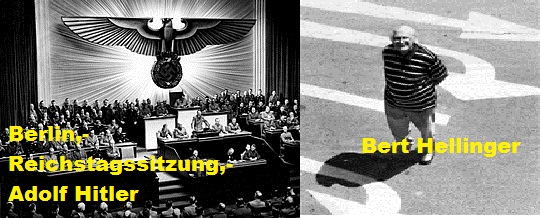Só quando instado por jornalistas opinei sobre o processo do chamado “mensalão”. E não entrei na seara que é própria dos juízes: que réus deveriam ser absolvidos ou condenados e, neste caso, a quantos anos. Pessoalmente, não me movem impulsos punitivos e muito menos vingativos. A maioria dos réus não cruzou comigo na vida pública; em geral, seus modos de agir e pontos de vista políticos não coincidem com os meus. Mantive, é certo, um relacionamento cordial com os que tiveram mandato parlamentar. Embora entendendo as reações de indignação dos que pedem punição rápida, achei que não deveria entrar nesse coro. É óbvio que existe nas ruas um sentimento de dúvida, quando não de revolta, com os resultados ainda incertos do julgamento. Afinal, para a maioria dos brasileiros, trata-se de uma das poucas vezes em que habitantes do “andar de cima”, como se os qualifica no falar atual, estão no pelourinho.
Agora, quando boa parte das águas já rolou, dá para comentar de modo menos emotivo o que aconteceu na fase quase final do julgamento e seus possíveis desdobramentos. Não cabem dúvidas de que a sensação de impunidade que a maioria das pessoas tem decorre menos das decisões que da demora no término do processo. Há várias explicações para tal demora: a complexidade do julgamento com pessoas de tão alta responsabilidade política, o Supremo Tribunal Federal (STF) não estar habituado e talvez nem preparado para atuar como instância penal originária, os Códigos de Processo que abrem espaço a um sem-número de recursos, etc. Para o povo nada disso é compreensível ou justificável. Por que demorar tanto?
Na primeira fase, a competência do ministro-relator, ao encadear as fases e os grupos de implicados num enredo de lógica compreensível, e a minúcia com que os juízes debateram o caso mostraram com clareza que houve desvio de dinheiro público e privado não apenas para cobrir gastos de campanha, como afirmou o presidente Lula, mas também para obter a lealdade de partidos e congressistas mediante recebimento de dinheiro.
A dosimetria, no dizer juridiquês – isto é, a atribuição de penas específicas aos culpados -, escapou à atenção do povo. O ponto culminante na primeira fase do julgamento foi determinar quem foram os mandantes. Independentemente da doutrina do domínio do fato – ou seja, quem sabedor dos atos ilícitos podia mandar seguir adiante ou interrompê-los -, formou-se na opinião pública a convicção de que os mais notórios personagens, por menos rastros que tivessem deixado, foram, sim, responsáveis.
Mesmo sem conhecimento jurídico, a maioria das pessoas formou um juízo condenatório. As decisões dos juízes comprovaram – em geral, por 9 x 2, 8 x 3 ou, mais raramente, 7 x 4, quando não por unanimidade – o veredicto popular: culpados. A opinião pública passou a clamar por castigo. A decisão de postergar ainda mais a conclusão do processo, graças à aceitação dos “embargos infringentes”, recurso de que só os doutos se lembravam e sabiam dizer no que consistia, caiu como ducha de água fria. Por mais que o voto do ministro Celso de Mello tenha sido juridicamente bem fundamentado, ressaltando que o fim dos embargos infringentes no STF foi recusado pela Câmara dos Deputados quando do exame do projeto de lei que suprimiu esses embargos nos demais tribunais, ficou cristalizada na opinião pública a percepção de que se abriu uma chance para diminuir as penas impostas.
Tal abrandamento implicará mudança de regime prisional apenas para membros do “núcleo político”. Se essa hipótese vier a se confirmar, estará consagrada a percepção de que “os de cima” são imunes e só os “de baixo” vão para a cadeia. O que às pessoas mais afeitas às garantias dos direitos individuais e menos movidas por sentimentos de vingança pode parecer razoável à maioria da população parece simplesmente manobra para que o julgamento seja postergado, nunca termine e o crime continue sem castigo. Tanto mais que metade do Supremo encontrou argumentos para negar a vigência dos embargos infringentes naquela Corte.
É fato notório, ademais, que todo o edifício jurídico-constitucional se constrói sobre realidades políticas. A indicação de dois novos membros do STF pelo governo, depois de tantos rumores de conversas com candidatos para comprometê-los com um comportamento brando no julgamento do mensalão, e a infausta tentativa do presidente Lula de pedir a um ministro que não votasse logo o processo exemplificam a contaminação da pureza jurídica pelas pressões políticas. O último voto sobre os embargos infringentes – sem que essa fosse a intenção do ministro que o proferiu – deu a sensação de que haverá um abrandamento das penas. Sensação que se reforça quando os juízes recém-nomeados dizem que, havendo novo julgamento, poderiam opinar de modo contrário ao da maioria anterior.
Reitero: pessoalmente, não me apraz ver pessoas na cadeia. Mas isso vale para todos, não só para os políticos ou para os do “andar de cima”. E há casos em que só o exemplo protege a sociedade da repetição do crime. A última decisão do tribunal agrava a atmosfera de descrédito e desânimo com as instituições. Numa sociedade já tão descrente de seus líderes, com um sistema político composto por mais de 30 partidos, num ambiente corroído pela corrupção, com um governo com 40 ministérios, uma burocracia cada vez mais lenta e penetrada por interesses partidários, não teria sido melhor evitar mais uma postergação, reforçando a descrença na Justiça?
Ao acolher os embargos infringentes o STF assumiu responsabilidade redobrada. Ao julgá-los, sem se eximir de ser criterioso, o tribunal deverá cuidar para decidir com rapidez e evitar a percepção popular de que tudo não passou de um artifício para livrar os poderosos da cadeia.
Publicado no Jornal O Estado de São Paulo (06.10)










%20identificada%20em%20paciente%20dos%20EUA.jpg)


.png)